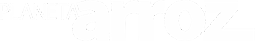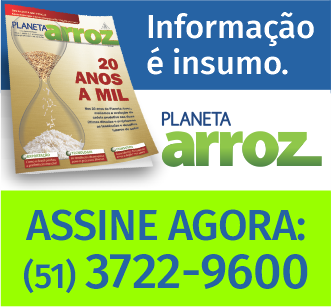O que o Brasil quer da China?

Yang Reordenamento de nossa política externa possibilitaria verdadeira aproximação com o país asiático e melhor inserção no século XXI:
Autoria: Philip Yang – Fundador do Instituto Urbem, empresário do setor de petróleo, gás, mineração e energia. Mestre em Administração Pública pela Harvard.
"Ah, então você é um banana!", me dizia uma colega chinesa que eu acabava de conhecer na sala de aula, logo depois de um debate acalorado sobre identidades étnicas e culturais, no meu mestrado nos Estados Unidos. "Sim, um banana", reafirmava ela aos risos e sotaque chinês, ao perceber o meu desconcerto.
"Chamamos de banana", me explicava ela, "todos os que, como a fruta, são amarelos por fora e brancos por dentro".
O termo era para mim uma novidade.
Na China e nas comunidades chinesas mundo afora, explica minha colega, a expressão é usada para designar pessoas como eu: de origem e feições asiáticas, mas portadoras de uma visão de mundo ocidental – na cultura, na linguagem, nos maneirismos. A designação é frequentemente empregada de forma pejorativa e ofensiva por chineses puristas críticos a conterrâneos que se distanciam de suas origens culturais, adotando valores e comportamentos ocidentais. No mais das vezes o termo também é aplicado de maneira jocosa e bem-humorada para caracterizar a ocidentalização de chineses, de seus hábitos e costumes distantes de suas raízes orientais.
Já familiarizado com a metáfora recém-aprendida, mas ainda sob o impacto do que eu imaginava ter sido um insulto, arrisquei uma reação: – "Não sou um banana!", retruquei.
"Seguindo a sua figura de linguagem, sou um maracujá, amarelo por fora e misturado por dentro, como um bom brasileiro."
O Brasil não é exatamente o Ocidente, expliquei, sem querer me alongar. E tampouco sou branco por dentro, pensei com meus botões. Somos talvez um ocidente tropical, um extremo ocidente, uma grande mistura.
O que terá impulsionado desempenho econômico tão excepcional na China e tão pífio no Brasil nas últimas décadas?
Estávamos no ano de 2000. Naquele momento, a China tinha completado apenas duas décadas de reformas econômicas, a partir da redefinição do papel do Estado e do mercado implementada por Deng Xiaoping em 1978. Embora já apresentasse elevados índices de crescimento, a China de então não me despertava curiosidade ou interesse particular. Para mim, tratava-se de um país geopoliticamente importante, grande e distante, que, como o Brasil, buscava um caminho de prosperidade.
No contexto atual, tudo isso muda radicalmente. Meu sentimento em relação à China salta da indiferença para a perplexidade. Como, em meras quatro décadas de reformas, transformou-se na maior potência econômica do planeta, exibindo não apenas as conhecidas taxas de crescimento, mas também capacidade de inovação tecnológica em diversos setores e um desempenho educacional incomparável? Porque nós no Brasil, após três décadas de reformas ensejadas pela Constituição de 1988, nos sentimos condenados econômica e socialmente ao imobilismo?
Para qualquer brasileiro, o contraste entre os dois países é estarrecedor. Para mim, brasileiro de origem chinesa, a diferença de desempenho é espiritualmente dilacerante. Por que terá o meu pai saído da China? Terá valido a pena vir para o Brasil? Obviamente encontro respostas claras a essas perguntas. Se meu pai não tivesse fugido da China, provavelmente teria sido morto, dadas as relações políticas que mantinha dentro da elite do antigo regime nacionalista de Chiang Kai-shek. Meu segundo irmão mais velho, que ficou para trás com a avó, acabou deprimido por ter sido impedido de tocar o seu violino durante a Revolução Cultural (1966-1976), e optou por encurtar sua vida atirando-se numa linha de trem.
Parece óbvio que a fuga terá valido a pena, mas essa é uma conta emocional difícil de se fazer. E o sucesso econômico estrondoso da China oblitera ainda mais a razão. Pior: o fracasso comparativo do Brasil é de tal ordem que o sentimento de indignação prevalece sobre uma possível objetividade. Onde erramos? Temos algo a aprender com o caso chinês? Ou a especificidade cultural e política deles (e nossa também) impede qualquer paralelo?
Na falta de clareza analítica própria, recorro à teoria política.
A literatura das ciências sociais ensina que as transformações do Estado são geradas por um conjunto de fatores: (i) forças internacionais, (ii) variáveis domésticas ("de baixo para cima") e (iii) pressões originadas do próprio aparelho estatal ("de cima para baixo") (1).
Quem sabe, uma análise comparativa de nosso passado recente pós-1988 vis-à-vis o avanço chinês desde 1978, jogue alguma luz para os nossos caminhos futuros.
Mais objetivamente – e deixando de lado por ora o debate ideológico – a pergunta que compõe meu tormento e perplexidade é apenas uma: o que terá impulsionado desempenho econômico tão excepcional na China e tão pífio no Brasil, nestas últimas quatro e três décadas de reformas, respectivamente?
Terá sido um determinismo histórico, cultural e geográfico que catapultou a China à posição de farol do desenvolvimento da economia global? (2) Ou podemos atribuir o sucesso chinês à obstinação e voluntarismo de sua população e de seus líderes; ou ainda, à qualidade doutrinária do chamado "socialismo de mercado, com características chinesas"? E o nosso fracasso relativo, de onde vem? Da nossa herança e circunstância histórica e espacial periférica, ou das nossas lideranças e do nosso povo?O que fazer?
Minha tentativa aqui é de extrair e de aprender algo desse contraste. Faço desde logo um caveat para não afastar o interesse do leitor na partida: expressões de admiração ou referências a resultados positivos alcançados pela China não correspondem a atitude minha de complacência, condescendência ou de endosso ingênuo do complexo sistema chinês.
Meu objetivo aqui é observar, com humildade e sem pré-juízos, o que a China eventualmente oferece de lições e assim identificar, sem mimetismos, possíveis alternativas para o nosso desenvolvimento social e econômico. (3)
Fatores internacionais
Começando pelo internacional, parece óbvio que o contexto geopolítico da China colocava o país, na década de 1970, numa situação de centralidade muito maior do que a do Brasil. Controladora do terceiro maior território do planeta, situado entre a Ásia Central e o Pacífico, e com uma frente costal temperada de mais de 14.000km, habitada por população superior a um bilhão de pessoas, detentora de cultura e civilização milenares, a China sempre foi, por sua história e geografia, incomparavelmente mais importante do que o Brasil num sistema internacional longamente dominado por relações entre povos do Norte.
No contexto da Guerra Fria, esse peso superior da China levou à histórica aproximação entre Washington e Beijing, articulada pela visita secreta de Kissinger a Zhou Enlai em 1971, evento que elevaria o país asiático a um patamar de importância geopolítica e diplomática que o Brasil jamais terá atingido. Preterido pelos centros hegemônicos, Brasil consolidou status quo de potência média, mas sem experimentar ascensão no poder.
Dava-se início, sob as lideranças de Mao Zedong e Richard Nixon, à chamada diplomacia triangular. A China distanciava-se da União Soviética e alterava assim a geometria de poder da era bipolar, abrindo as portas para uma cooperação com os Estados Unidos que trouxe consequências profundas para o desenvolvimento econômico da China. Em especial, vale notar, a aliança sino-americana desencadeia a profunda, complexa e sofisticada interdependência econômico-financeira e comercial bilateral hoje em vigor.
No mesmo período, o Brasil percorria o caminho inverso nas suas relações com os Estados Unidos. Por contingência geopolítica, irrelevância estratégica, vulnerabilidade externa, inabilidade política, insuficiência criativa ou ausência de personalidades catalisadoras, o Brasil não estabeleceu qualquer tipo de relação preferencial com atores hegemônicos do sistema internacional que pudesse abrir mercados, apoiar uma revolução nos níveis de produtividade do trabalho e transformar nosso destino econômico, tal como fez a China em sua relação com os Estados Unidos.
O Brasil – alvo de protecionismo do U.S. Trade Act de 1974 e fragilizado pela dependência das importações de petróleo, cujos preços subiam acentuadamente como resultado da crise de 1973, fato que impunha forte desequilíbrio na balança comercial, além de enorme pressão inflacionária – passou a optar por um distanciamento de Washington durante a presidência de Ernesto Geisel. E, assim, depois de períodos de maior alinhamento aos EUA, a diplomacia brasileira nos anos setenta passou a resgatar um posicionamento mais independente e voltado para a defesa de valores universais.
Ou seja, enquanto o relacionamento sino-americano em alto nível criava a base de estabilidade institucional para um entrelaçamento de interesses econômico-comerciais e culturais, a diplomacia brasileira – preterida por Washington – viria a ter de lidar com uma série de complicadores ou irritantes no relacionamento com os EUA, tais como o afastamento com relação a Israel e a aproximação ao mundo árabe, o apoio à descolonização afro-asiática, o reconhecimento da independência de Angola, Guiné Bissau e Moçambique (mesmo tendo sido esses novos Estados fundados a partir de movimentos de orientação marxista) e também a celebração do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, que ensejou a construção das Usinas Angra 1 e Angra 2.
Essa postura brasileira autonomista, de "pragmatismo responsável", conforme denominada pela historiografia do período, expressa a consciência de que, dada nossa baixa relevância geopolítica, qualquer alinhamento automático a Washington não resultaria em contrapartidas relevantes. Numa nota pessoal – fui diplomata brasileiro entre 1991 e 2001, meu testemunho dos anos de Itamaraty é de que a grande maioria dos antigos colegas tem como inquietação e orientação intelectual a identificação e defesa de interesses nacionais permanentes, em bases pragmáticas e não-ideológicas.
Nos bancos do Instituto Rio Branco, debatíamos com admiração como a diplomacia altamente profissional do regime militar diferenciava com clareza o interesse nacional – permanente, estratégico, de Estado – dos interesses de governo, mais conjunturais, a ponto de apoiar, como vimos, em plena ditadura, movimentos de orientação socialista. Tal diferenciação, entre interesses de Estado e de governo, foi-se diluindo ao longo dos mandatos presidenciais civis, fazendo com que a diplomacia se transformasse, paulatinamente, em ferramenta de defesa de bandeiras partidárias, ideológicas, de natureza interna.
Tomando a nossa política externa para a Venezuela como um exemplo próximo, vimos que nos anos Lula nosso relacionamento bilateral esteve fundamentado no apoio ao chavismo, enquanto hoje, sob Bolsonaro, a ação diplomática tem como foco o apoio à oposição de Maduro. Em ambos os casos, parece claro que nossos interesses geoestratégicos permanentes, não partidários – o fato de que a Venezuela é detentora da maior reserva petrolífera do mundo, o controle e a gestão territorial da Amazônia, a estabilidade da fronteira, o combate ao narcotráfico – não foram priorizados em relação a vínculos conjunturais, oportunísticos e transitórios.
A China, país onde servi como diplomata de 1994 a 1997, terá mantido uma política externa mais regular e homogênea ao longo dessas quatro últimas décadas, fazendo da diplomacia uma ferramenta de defesa de interesses de longo prazo: a integridade territorial, o desenvolvimento econômico-comercial, a cooperação cultural e educacional, a inovação tecnológica, estando os alinhamentos supostamente ideológicos da China, como a Pyongyang ou Caracas, fortemente ancorados em interesses estratégicos fundamentais do Estado chinês.
De certo, a estabilidade da política externa chinesa é resultado da estrutura política baseada em um só partido. O dilema que se coloca a nós, portanto, é como fazer com que, numa democracia com multiplicidade extrema de partidos e correntes políticas, os interesses permanentes não sejam confundidos e diluídos por demandas de diferentes forças sociais que, embora legítimas, podem colocar em risco interesses coletivos mais abrangentes.
Não será o caso aqui de revisitar as relações exteriores dos dois países nas décadas mais recentes. O que vale notar é que, no tocante ao impacto das forças internacionais no amoldamento dos Estados chinês e brasileiro, as transformações envolvendo a China são de alcance global (i.e. ingresso da China na OMC, Iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, etc.), enquanto no caso do Brasil as mudanças apresentam impacto e influência em âmbito regional (e.g. Tratado de Assunção, formação do MERCOSUL, etc.). E, internamente, os reflexos do internacional sobre a realidade doméstica foram proporcionais: enormes e radicalmente transformadores na China e apenas moderadamente importantes no Brasil, sem impactos relevantes.
Em suma, a estabilidade da aproximação da China aos EUA ensejou onda de investimentos que fazem da China a grande usina fabril do mundo, transformação que teve impacto na estrutura do poder internacional e na realidade interna chinesa.
Já o Brasil, preterido pelos centros hegemônicos de poder, dependeu, como veremos a seguir, de transformações endogenamente geradas, para consolidar um status quo de potência média, para fortalecer sua autonomia, mas sem excedentes de poder, e sem experimentar uma ascensão notória na hierarquia do poder mundial, como ocorreu com a China.
Brasil só será viável se formos capazes de resgatar conjunto mínimo de valores que nos façam enxergar como uma coletividade unida.
Será que algum gênio da diplomacia ou uma formidável liderança poderia ter mudado nosso destino? Será que se tivéssemos tido a visão de um Bismarck ou o poder agregador de um Gandhi ou mesmo a força carismática de um De Gaulle teríamos logrado construir um caminho menos periférico? Talvez possamos nos consolar pensando que, ao menos no plano diplomático, fizemos o que pudemos (e contamos com o que tivemos do ponto de vista do patrimônio intelectual disponível).
Portanto, fica o indulto de que dificilmente poderíamos ter feito algo diferente, algo que mudasse nossa condição acessória no contexto internacional.
Num clube chamado Ocidente, que adotou instituições como o Conselho de Segurança da ONU, o G7, ou mesmo a OCDE como referências de poder, nos situamos em posição secundária, subsidiária em relação a ele.
Usualmente, não entramos num clube de prestígio e poder por três razões: porque não queremos, porque não fomos convidados ou, ainda porque, ao tentarmos, não conseguimos. No Clube Ocidente, comandado no século XX pelos Estados Unidos, o Brasil não entrou. Deixo ao leitor imaginar por que.
Fatores domésticos ("de baixo para cima")
Talvez, e reforço o "talvez", a comparação dos fatores domésticos de transformação da China e do Brasil aponte para uma perspectiva um pouco mais alvissareira para o nosso país. Com vistas a propiciar o entendimento paralelo da realidade de países distintos, metodologias de política comparada prescrevem o estudo sistemático de uma série de variáveis, que enumero aqui em forma de perguntas:
– Na data de início das grandes reformas na China e no Brasil, 1978 e 1988, qual era o nível de industrialização que prevalecia em cada país? – Qual era o tamanho dos respectivos mercados consumidores? – Em que situação cada país se encontrava na transição do fordismo para economia de serviços? – Qual era a escala e qualidade do setor educacional; a força de sindicatos; a capacidade de mobilização de massas; o nível de democratização (item que discuto em mais detalhe na próxima seção)?
– Podemos falar em estado de bem-estar social no Brasil e na China naquele momento histórico, como expressão do equilíbrio entre capital e trabalho? – Qual era, em cada caso, o tamanho do setor agrário? – Qual era o nível de concentração e a estrutura da ocupação fundiária? – Qual era o tamanho, qualidade e disponibilidade do capital humano, ou, em outros termos, qual era o tamanho da classe média com educação pós-secundária? – Como era a disponibilidade de matéria prima e energia, recursos naturais? – Qual era o grau de homogeneidade étnica e de coesão social, do ponto de vista de valores e princípios que norteavam cada sociedade?
Uma tabela que plotasse comparativamente a situação de cada país no ano respectivo de inauguração de suas reformas indicaria que o Brasil terá partido de uma situação mais avantajada nos principais indicadores acima enumerados. Em poucas décadas, no entanto, fomos superados pela China, em quase todos os domínios. Os números de cada indicador são conhecidos; para não cansar o leitor cito aleatoriamente exemplos desse contraste tão dinâmico: em 1980 o PIB per capita da China era USD 200,00 e no Brasil USD 3.500; em 2019 a China alcançou US$10.000 (FMI), multiplicando o seu PIB per capita mais de cinquenta (!) vezes, enquanto o Brasil, com uma população 6 vezes menor, chegou em 2019 a US$8.796, elevando o índice em apenas duas e meia vezes no mesmo período.
No âmbito político, pudemos registrar no Brasil uma expansão notável da cidadania e direitos civis, algo que deve ser celebrado. No plano educacional, no entanto, nossos resultados são estarrecedores. Em relatório recente do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, tido como a mais importante avaliação do mundo em aprendizagem, tomando como referência o desempenho em leitura, matemática e ciências), a China aparece de longe em primeiro lugar (4) – à frente de países tradicionalmente líderes – contrastando com a nossa vergonhosa 57ª posição na prova de leitura.
Reservo as linhas desta seção para comentar dois aspectos que me parecem fundamentais numa análise comparativa dos dois países que, na perspectiva de uma ação futura, precisam ser aprofundados. O Brasil tornou-se ator de influência global em dois setores econômicos: agricultura e energia. Somos uma potência alimentar e energética. Curiosamente, o crescimento vertiginoso da China gerou dependência externa do país justamente nestes dois domínios: os chineses são hoje os maiores importadores líquidos de produtos agropecuários e de petróleo do mundo. Numa metáfora popular, o império chinês é um verdadeiro gigante econômico sobre duas pernas de gnomo, o que torna sua trajetória gravemente dependente do exterior e, portanto, vulnerável a choques externos.
Não nos interessa exportar comida e petróleo apenas, mas construir parceria que nos conduza à rediversificação produtiva do país.
Temos alguma reflexão de alta política a empreender aqui? Ao longo dos 40 anos em que a China subiu para o Olimpo das grandes potências, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um dos principais players do agronegócio mundial, um dos maiores exportadores de produtos agropecuários para o mundo.
Obtivemos aumentos importantes na produção e na produtividade do solo, tanto no plantio como na pecuária e na avicultura.
No campo da energia, passamos a ser referência internacional na produção de petróleo em águas ultraprofundas. Mereceria essa curiosa complementaridade entre os dois grandes países ser objeto de alguma ação política específica? Ou devemos deixar que forças e agentes de mercado, sozinhos, atuem na construção de uma convergência de interesses? Claro, temos muitos outros dotes. Temos uma indústria mineral competente, um segmento aeroespacial importante, bem como matemática de qualidade. Mas me concentro aqui na agricultura e na energia pois nestes dois setores há extrema complementaridade com a China.
Deixo em suspense, para o final do texto, uma reflexão sobre este tema.
Antes disso, ainda no tocante a fatores domésticos que contribuem para as transformações do Estado, mencionaria o forte contraste entre os patrimônios humano e histórico de cada país. Nenhum juízo de valor cabe aqui neste tema, sob o risco e pena de incorrermos em equívocos de avaliações etnocêntricas. Mas vale evidentemente registrar as diferenças que são gritantes como ponto de referência para reflexão e ação, para que a leitura do presente e a construção do futuro de alguma forma se produza a partir das especificidades de cada realidade.
De um lado, temos a homogeneidade étnica, socioeconômica e cultural da China. A uniformidade sistêmica que prevalecia na década de 1970 (e que prevalece ainda hoje) resulta de uma história milenar, rica e violenta, onde uma etnia dominante, a dos Han (que hoje compõe 92% da população), fez prevalecer, mesmo sobre povos invasores, seus valores, princípios, enfim, sua visão de mundo. Nos dois últimos milênios, uma filosofia, ética social, ideologia política e modo de vida – o confucionismo – tem moldado e amalgamado com rara força o comportamento coletivo e político chinês, reforçando a homogeneidade e a coesão social.(5) Já a igualdade social dos anos setenta – a pobreza generalizada – tinha, como fator de curto prazo o fracasso geral da estatização dos meios de produção estabelecida pelo regime maoísta e, de longo prazo, o declínio do regime imperial ao longo do século XIX, que levaria à fragmentação (e humilhação) da China na primeira metade do século XX.
Do nosso lado, a riqueza da diversidade étnica e cultural constitui o traço definidor do que somos como sociedade. E as raízes patrimonialistas do Estado brasileiro fizeram da desigualdade a nossa outra marca coletiva. Ou seja, os pontos de partida, na China e no Brasil nos anos 70 e 80, eram completamente distintos, para não dizer diametralmente opostos, lembrando sempre que nossa diversidade tem como ingredientes a imigração europeia e dois grandes horrores: a paulatina dizimação, por doenças e violência bruta, de nossa população indígena original que, como sabemos hoje, chegou à casa dos 10 milhões de pessoas, e a escravidão, que submeteu 40 milhões de africanos a um regime atroz de trabalho forçado.
São feridas no nosso corpo social que ainda permanecem abertas, inflamadas. Identificadas essas diferenças, quais são as transformações do Estado, geradas de baixo para cima, em cada país, que podemos desejar para os próximos anos?
Se a recente estabilidade da China deriva da homogeneidade étnica e cultural, algo que foi herdado da história pelas presentes gerações, no caso do Brasil nossa estabilidade política, econômica e social deverá ser construída a partir da riqueza de nossa diversidade. Mas esse potencial brasileiro só poderá ser realizado a partir de uma atitude de integração ativa, onde as diferentes lutas identitárias em curso – ideológicas, étnicas ou de gênero, todas legítimas e necessárias – não prevaleçam sobre ideais de valor universal.
A afirmação é vaga – reconheço – mas os ideais que movem as coletividades são necessariamente difusos e altivos para que possam justamente abarcar o maior número de indivíduos. “Qual é a sua utopia?”, pergunta o muro pichado, em letras garrafais em tinta vermelha escorrida. "Qual será nossa utopia?", pergunto eu. Numa tentativa preliminar de dar contornos de clareza a esse propósito coletivo imaginário, talvez nossa saída seja a de imaginar que seremos capazes de construir uma atitude radical e intransigente em defesa da integração social, política e econômica, com base na tolerância, respeito e solidariedade em relação às diferenças que marcam nossa sociedade.
A neurociência nos mostra que, do ponto de vista evolutivo, tendemos a preferir o que nos é familiar, pois a familiaridade nos oferece a sensação de menos perigo. (6) Nesse sentido, nossos cérebros foram programados para que o novo, o desconhecido, a não-familiaridade – que pode ou não representar perigo – dispare sinais de alerta. Nas aglomerações urbanas – habitat da grande maioria – temos de nos reprogramar para domar esse reflexo atávico: ou aprendemos a conviver com as diferenças ou estaremos fadados à nossa autodestruição como sociedade.
Afinal, somos ou não animais racionais? Esticando para outros domínios o celebrado motto de Angela Davis – "não basta não ser racista, temos de ser antirracistas" –, não basta criticar as desigualdades, precisamos ativamente lutar contra as desigualdades. Nas cidades, devemos lutar pela produção de espaços urbanos que (a) propiciem um ambiente saudável de segurança pública e (b) induzam, fomentem e estimulem (a redundância aqui é proposital) o convívio das diferenças, a partir da integração social e econômica, sobretudo pela educação pública de excelência.
"O diferente hoje nos será familiar amanhã", dizia o prefeito Richard J. Daley, buscando contrarrestar o horror, a repulsa e a crítica conservadora que a monumental escultura cubista de Picasso, de 15 metros de altura e 162 toneladas de aço, inaugurada em Chicago numa manhã nebulosa de agosto de 1967, deflagrava naquele momento. Visionárias palavras: nos anos seguintes o grande público abraçava de tal forma a obra que sua presença desencadeou a instalação daquela que é uma das maiores coleções de esculturas públicas do mundo, com obras de Chagall, Miró, Dubuffet, Calder, Noguchi, Moore, entre tantos outros mestres universais, espalhadas pela cidade, abrindo caminho para outras manifestações de arte urbana.
Será que a transição do estranhamento para a familiaridade, e da familiaridade para o afeto, que se verificou na arte, pode se estender para o domínio das pessoas? Talvez sim, porém com mais tempo. Mesmo Chicago, que conseguiu esse grande feito na arte pública, está longe de aplacar o preconceito racial e de classe. Não importa, a história nos dirá; e este deve ser o voto iluminista, de luz possível para uma civilização, ou ao menos para uma certa civilidade, a um só tempo local e global. Temos alguma esperança aqui.
Vejam vocês como, em três gerações, mudou-se no Brasil a percepção relativa a relacionamentos homoafetivos e à igualdade da mulher.Mesmo em meio a terríveis retrocessos, apesar de não prevalecer ainda um quadro de plena aceitação, ou ao menos de tolerância, de valores progressistas, é inegável que muito se avançou. Quem entre nós seria capaz de buscar uma nova inserção internacional? Temos liderança à altura desse grande movimento?
Voltando ao Brasil e à China, é triste constatar que nos dois países as cidades avançam com programas de desenvolvimento urbano e imobiliário que aprofundam a segregação territorial, que não favorecem a integração entre diferentes. A produção de espaços urbanos, em ambos os casos conduzida sobretudo por forças privadas, obedece a formação natural, pelo mercado, de preços da terra, o que faz com que as populações de menor renda sejam jogadas para as regiões periféricas, cada vez mais longe dos locais de trabalho.
Infelizmente, as cidades chinesas, que partiram de uma situação de muita igualdade nos anos setenta, refletem hoje no território o aumento crescente da desigualdade. Nas grandes cidades, quanto mais se caminha para periferia, menos beleza e menos riqueza. E o crescimento urbano lá é exponencial. Beijing, por exemplo, cresce em torno de anéis periféricos e a cidade já se estende para além do sexto anel. A China nesse sentido perdeu uma grande chance: a de fazer com que a redução da pobreza levasse também a uma maior integração socioterritorial.
Ou seja, a inclusão socioeconômica não correspondeu a uma inclusão socioespacial. Neste incrível processo de modernização das cidades realizado nas últimas décadas, neste período em que houve aumento notável de riqueza, as cidades chinesas se espraiaram mas sem fazer do espaço uma ferramenta para se promover a integração social.
A coesão social de um país dependerá cada vez mais da capacidade de gerar cidades com amplos espaços públicos e bairros que promovam a convivência de diferentes faixas de renda, etnias, credos e comportamentos. Esta é uma agenda que deverá ganhar centralidade também na China, na medida em que tensões sociais poderão emergir como resultado do aumento do desigualdade. Críticos da urbanização chinesa, inclusive nativos, como o premiado arquiteto Wang Shu, tem apontado para a segmentação do espaço e a perda dos locais de convívio e de fricção social espontânea.
Mas eis aqui a grande diferença entre cidades brasileiras e chinesas: enquanto aqui o caos invade a ordem, lá a ordem invade o caos. Em ambos os casos assistimos a processo de forte segmentação socioespacial, mas a China avança rapidamente na infraestruturação e conectividade urbanas. As redes de metrô de Shanghai e Beijing, por exemplo, somam hoje mais de 1.300 km; em São Paulo e Rio, os dois sistemas metroviários perfazem magros 159 km. Aqui, assistimos passivos à presença crescente de milícias, do crime organizado e de moradores de rua nas regiões consolidadas das cidades. Lá, as cidades, muito seguras, se ligam por trens de alta velocidade, cuja rede já passa de 29.000 km…
Finalizo esta seção retomando o "talvez" com que a iniciei. O Brasil só será viável se e somente se formos capazes de resgatar um conjunto mínimo de valores que nos guiem e nos façam enxergar como uma coletividade unida em torno de um destino comum. Talvez a saída possível para nós envolva conjunto de iniciativas voltado para a construção de cidades melhores, que, em termos objetivos, atue como uma política distributiva intensa e inteligente, por meio da geração maciça de bens e serviços coletivos urbanos.
Tal política deve partir de consenso, ainda a ser construído, de que uma cidade melhor gerará ganhos de produtividade e constitui condição essencial para uma inserção mais competitiva na nova economia. Não há eficiência quando grandes proporções de trabalhadores passam diariamente horas no trânsito. Portanto, a mudança comportamental precisa ser acompanhada de um reordenamento do espaço construído, envolvendo ativamente forças de mercado e da sociedade, de baixo para cima, e também de iniciativas de governo, pactuadas de cima para baixo, a partir de iniciativas que comento na próxima seção.
Talvez consigamos, mas não será fácil. Exigirá de nós ação proativa nesses dois domínios associados à questão geral das diferenças que abordamos aqui: a construção da tolerância, respeito e solidariedade – superando atavismos – e o fomento permanente da inclusão econômica. (7) Não por mecanismos de distribuição de tipo paternalista, mas por meio da construção, repito, de cidades melhores, pela distribuição maciça de bens e serviços públicos urbanos. Usando a criatividade, não nos faltarão mecanismos que promovam a reprodução de capital privado em empreendimentos públicos voltados para a redução da desigualdade, notadamente a segregação socioespacial.
O aparelho do Estado como fator de transformação ("de cima para baixo") No plano doméstico, os fatores de transformação do Estado que prevaleciam na China e no Brasil nas décadas de 1970 e 1980 eram igualmente contrastantes. Na China, em 1978, o imperativo emergencial era estruturar o mercado, após o desastre econômico da estatização plena. No Brasil de 1988, nossa urgência foi a de reconstruir a democracia, após o trauma da ditadura militar. Na China, o Estado abria as portas para a ação de agentes econômicos de mercado. No Brasil, o Estado se abria para as forças plurais da política e para vozes da sociedade organizada.
O resultado parcial desses dois processos é conhecido de todos: na China, em quatro décadas de reformas fortaleceram-se simultaneamente o poder político e o poder econômico. No Brasil, assistimos o contrário: uma estagnação dos índices gerais de produtividade do trabalho e o enfraquecimento do Estado, com exceção notória feita ao agribusiness e a segmentos do setor energético.
Estagnação econômica e enfraquecimento do Estado foram processos simbióticos marcados pela captura das políticas públicas, o avanço do crime organizado e das milícias e, claro, como sabemos, pelo aumento patológico da corrupção. Óbvio que a corrupção não é exclusividade nossa.
Também deixa marcas profundas na China, tendo sido objeto de campanha vigorosa de combate conduzida pelo próprio líder máximo da nação, que resultou no enquadramento de mais de 1,5 milhão de altos funcionários, numa lista que inclui generais do exército, membros do influente Comitê Central do partido. Mas diferentemente do que aconteceu aqui, a geração de riqueza na China foi capaz de, consistentemente, alçar centenas de milhões de pessoas para cima da linha de pobreza. Mais de 80% da população, algo como quatro Brasis, terão cruzado esta linha nestes últimos 40 anos. E, como vimos, o combate à corrupção no Brasil também ganhou terreno, com a consolidação de várias ferramentas de controle importantíssimas, as quais infelizmente nem sempre foram aplicadas de forma legal e impessoal.
"E a voz do povo chinês?", perguntarão ansiosamente os arautos da crítica à China.
Vale aqui lembrar que o poder social na China sempre se fez ouvir ao longo de sua história milenar, invariavelmente sob a forma de protestos, rebeliões e guerras. Nunca na história da China a voz do povo foi canalizada por instituições que garantissem uma manifestação popular ordenada nos grandes temas de governança do país. Nem mesmo nos períodos que se seguiram às Revoluções Republicana (1912) e Comunista (1949) se logrou constituir estruturas democráticas de participação mais alargada, que se estendessem para além do próprio corpo revolucionário.
O poder social na China, portanto, permaneceu, nestes últimos 40 anos, onde sempre esteve: "tamponado" e, como sempre, pronto para se manifestar ou explodir quando necessário. O poder central conhece melhor do que ninguém essa realidade. Durante a Dinastia Tang, por exemplo, a Rebelião Anshi (756–763) levou à morte o número atordoante de 36 milhões de pessoas (8), recorde mundial de horror que só viria a ser superado 1.200 anos mais tarde durante a Segunda Guerra Mundial. E a lista de rebeliões chinesas além de milenar é extensa e apresenta, como traço comum, a escala, em milhões, de fatalidades.
Numa perspectiva cínica, a conta simplista talvez seja a seguinte: a corrupção alastrou-se enormemente, lá como cá, mas a escala da geração de valor na China tem sido de tal magnitude que foi e continua a ser suficiente para manter a legitimidade do comando do Partido Comunista. Conversando com amigos e familiares locais, o que se depreende é que a democracia e o seu valor são estranhos à milenar história e à grande maioria da população chinesa. As fórmulas de governança construídas ao longo desses milênios foram sempre de natureza autoritária, e as tentativas de abertura ou flexibilização invariavelmente redundaram em caos.
No Brasil, não podemos hoje aceitar atitudes de condescendência em relação a qualquer inclinação de natureza autoritária. Dito isso, e cientes também das inúmeras imperfeições e fragilidades das democracias ocidentais, devemos evitar um posicionamento opinioso, cegamente crítico, em relação às fórmulas de governança na China. Afinal, são eles os titulares da civilização mais contínua e populosa do planeta.
Afinal, foram eles que, em quatro décadas, levantaram 800 milhões de pessoas para cima da linha de pobreza.
Ainda que aos nossos olhos ocidentais prevaleça um déficit de democracia na China, o país gerou sem dúvida um superávit de mérito, pelas extraordinárias conquistas sociais que lograram realizar em tão pouco tempo. Lógico, esta conta não é unívoca, e tampouco pode ser usada como justificativa para fórmulas autoritárias no Brasil. Mas é importante termos em mente que a legitimidade de um governo ou de um partido certamente se repousa sobre um legado amplo de resultados que, embora multifacetado, entram num balanço linear ou não de avaliação pela população.
De um ponto de vista mais teórico, e tomando como premissa a ideia de que a organização das sociedades sempre obedeceu à ação e interação entre forças de mercado, de governo e do povo – forças que configuram o poder econômico, o poder político e o poder social – a reforma do Estado na China implementada a partir da abertura de 1978 é absolutamente inédita, pois empreende novo reequilíbrio desse tripé de forças, qualitativamente diferente dos reajustes promovidos pela revoluções que definiram a formação dos Estados contemporâneos: a Revolução Francesa (1789), a Americana (1776) e a Russa (1917).
Na caracterização de Giovanni Arrighi, trata-se de implantar, no “socialismo com características chinesas” (1978), não uma economia de mercado, mas uma economia com mercado (9), após a fracassada tentativa de supressão completa do modo de produção capitalista na Revolução Chinesa em 1949.
Reservo um comentário final nesta seção para um elemento de transformação do Estado oriundo do próprio Estado conhecido na teoria política como pontos de veto (10). Os pontos de veto são definidos como o conjunto de situações nas burocracias nas quais escolhas coletivas (decisões, projetos públicos ou privados, projetos de lei, propostas de mudanças do status quo, etc.) podem ser obstruídas. Os pontos de veto são a um só tempo necessários e perversos. Necessários, pois de alguma forma constituem vetores de controle social e/ou técnico de projetos emanados do poder político ou econômico; perversos, pois, conforme argumentam os defensores do Estado mínimo, todo ponto de veto, nas mãos de agentes de veto, tornam-se presas facilmente capturáveis por interesses escusos de agentes públicos ou privados.
Muitas experiências conhecidas de estruturação de projetos complexos demonstram que o Estado brasileiro, no esforço geral de institucionalização da democracia, criou nas suas diferentes esferas de poder um mar de pontos de veto que nos condena à ineficiência e à imobilidade. Órgãos de fiscalização rapidamente se transformaram em centros de arrecadação de fundos para fins políticos ou privados. Agências públicas foram capturadas por empresas ou aparelhadas por partidos, prejudicando a necessária independência dessas instituições.
Mesmo bancos de fomento foram objeto desse processo ao longo de décadas e diferentes governos. Debates públicos, por sua vez, são frequentemente capturados por grupos de pressão que não necessariamente representam o interesse público. Para piorar, além da lentidão e incerteza que caracterizam esses processos, cada decisão é adotada de forma diacrônica, uma após a outra. Qualquer projeto, infraestrutural, ambiental ou imobiliário, precisa se submeter a diferentes balcões.
Não constituímos um balcão único que pudesse examinar de forma sincrônica todas as variáveis de determinado projeto. Por exemplo, um projeto de intervenção urbana de certa complexidade em São Paulo pode, em caso de sucesso, levar mais de 5 anos para ser aprovado, até passar por todas as instâncias de aprovação. Enfim, talvez o problema não seja propriamente a existência de “pontos de veto”, mas sua descoordenação e captura por indivíduos e corporações mais interessados em arrecadar recursos (por corrupção ou não), do que no interesse público.
E para completar, lembremos que a modelagem de qualquer projeto de infraestrutura demanda conhecimento técnico que usualmente não está disponível no âmbito interno da máquina pública no Brasil, dada a insuficiência de recursos humanos e materiais nas diferentes esferas de governo. Tal insuficiência projetual do Estado contribui adicionalmente para o desenvolvimento de relações incestuosas (ou no mínimo conflitadas) entre o setor público e o privado no setor de concessões e infraestrutura.
Registramos melhorias no marco regulatório nas últimas décadas, mas estamos muito aquém do desejável (11). Ou facilitamos a contratação de projetos competentes junto ao mercado (como preferem os mais liberais) ou dotamos o Estado de pessoal qualificado para fazê-lo (como querem os mais estatistas).
Independentemente da sua preferência (mais liberal ou mais estatista), o componente fundamental é fazer acontecer e correr atrás do atraso, catalisando o processo de discussão do projeto juntos aos stakeholders: as forças de mercado e a população (a beneficiária e a impactada negativamente). O leitor pode inferir que num Estado poderoso e centralizador como o da China a quantidade de pontos de veto é muito menor. De fato é. Os projetos de grande escala são decididos de forma célere, e o Conselho de Estado e várias instâncias de governo em nível provincial e municipal têm sistematicamente buscado integrar instâncias de aprovação governamental em um sistema de aprovação unificado, com vistas a reduzir prazos.
Seria simplista e empobrecedor caracterizar as diferenças entre China e Brasil como sendo uma oposição entre tecnocracia e democracia. É justo no entanto afirmar que a China talvez tomasse decisões ainda melhores se desenvolvesse um sistema de escuta mais capilarizado, voltado para a captação de opiniões e do conhecimento local de beneficiários/usuários, sempre precioso, nos grandes projetos.
No sentido inverso, certamente ganharíamos em eficiência se olharmos como a China vem logrando enxugar prazos aprobatórios, aumentando a densidade tecnológica na administração pública e unificando processos que correm diacronicamente em um único fluxo sincrônico. Se queremos reduzir a desigualdade e a exclusão promovendo inclusão social pelo provimento de melhores bens coletivos públicos (insisto pois esta é minha tese predileta), precisamos urgentemente encontrar fórmulas de prover o Estado e o mercado de condições de estruturar projetos – de infraestrutura e habitação – de melhor qualidade e de forma mais rápida. Que não continuemos na lentidão dos nossos metrôs. Ou nos horrores do Minha Casa Minha Vida. (12)
O Brasil no mundo "No século XIX, o mundo se europeizou. No século XX, foi americanizado. O século XXI será asiático", me diz Parag Khanna ao telefone, numa afirmação que mais tarde seria utilizada na vinheta de lançamento do seu livro publicado ano passado, intitulado The Future is Asian. (13) Mal ingressamos no Ocidente, pensei eu, e o centro de gravidade do sistema internacional se desloca para o Oriente. Estaríamos buscando hoje, objetivamente, um posicionamento estratégico ante essa mudança de eixo do poder mundial, que ocorre ao mesmo tempo que experimentamos uma transição profunda de paradigma tecnológico?
Creio que não. Um olhar sobre os movimentos diplomáticos, empresariais e acadêmico/culturais no Brasil das últimas décadas nos mostra que estamos muito aquém do que deveríamos e poderíamos fazer. Na passagem do século XIX para o XX, diante da ascensão dos Estados Unidos como grande potência e a difusão das tecnologias da Segunda Revolução Industrial, o lendário Barão do Rio Branco reorientava a política externa brasileira, tirando a centralidade que a diplomacia de então atribuía à Europa e favorecendo uma aproximação à potência nascente do Norte (apesar de ser ele um grande admirador da cultura européia).
O fim da escravidão, o sucesso do comércio do café, a acumulação de capital necessária para o início da nossa industrialização tardia, a transição da monarquia para a república, enfim, as grandes transformações em curso na sociedade brasileira, impulsionavam a construção de uma nova identidade, a de um Brasil moderno.
O Barão soube auscultar essas grandes mudanças, internas e externas. (14) Forjou uma política que buscava consolidar a imagem do Brasil após a mudança de regime (apesar de ter sido ele um devoto monarquista), mostrando ao mundo que a República recém-estabelecida seria capaz de ocupar um espaço de poder entre as grandes nações. O trabalho de afirmação do Brasil no cenário internacional era de tal forma admirado (e enraizado nas aspirações coletivas da época) que o Barão alcançou ainda em vida estatura de herói nacional. Seu enterro em 1912 foi acompanhado por um público estimado em 300 mil pessoas, um evento tão inédito que levou ao adiamento das festividades oficiais do Carnaval. (15)
Nossa entrada no século XXI é marcada por evento histórico de transformações ainda mais profundas, desta vez tendo a China, como vimos, na posição de grande locomotiva das mudanças estruturais, na expansão simultânea das fronteiras tecnológicas da Terceira e Quarta Revoluções Industriais. Mas nesta transição, nos mandatos pós-abertura de Sarney, Collor/Itamar, FHC, Lula e Dilma/Temer, falhamos em detectar o vertiginoso deslocamento do poder mundial para a China e, como consequência, não produzimos políticas e estratégias à altura desse evento histórico de modo a alavancar interesses reais recíprocos.
O atual presidente brasileiro e o seu chanceler "trumpista" autodeclarado agravaram a situação do relacionamento sino-brasileiro: de um diálogo de baixa inspiração e criatividade, porém respeitoso, passamos para uma política, do lado brasileiro, utilitarista e tacanha, destituída de valores civilizatórios que as duas populações certamente almejam.
A China foi desprezada e mesmo atacada durante a campanha; e a correção de rota (tentativa, pois os chineses foram tomados sentimento desconfiança) veio tarde, de forma tímida e evasiva, que nem mesmo a visita presidencial a Beijing em novembro de 2019 logrou ajustar. "O grande encontro aqui foi comercial, a política é caso a caso", disse o presidente Bolsonaro de forma rasteira após o encontro com o seu homólogo chinês.
Deixar a política com a maior potência emergente do planeta "no caso a caso" parece ser, no mínimo, um despautério. Algo que precisa ser urgentemente corrigido. Enfim, vamos reconhecer: historicamente fomos míopes, medíocres, pequenos. E a situação piorou neste governo. Devemos fazer de tudo, sobretudo junto às lideranças do Congresso Nacional, para a situação não piorar ainda mais. Não poderia haver contrassenso maior do que pensar política no "caso a caso" com aquele que é o candidato maior a superpotência, hoje já uma potência com influência de alcance global. Uma política bilateral com "P" maiúsculo deveria ter como pauta os interesses estratégicos recíprocos e permanentes, e a adoção de valores e princípios que correspondam a anseios reais e concretos dos dois povos.
No plano dos interesses objetivos, nada mais urgente para a China – que metaforicamente descrevi como o gigante caminhando com pernas de gnomo – do que diminuir sua vulnerabilidade nos dois setores em que o Brasil se destacou, alimentos e energia. Parece-me portanto lógico que os temas associados à segurança alimentar e energética da China pudessem integrar uma pauta prioritária e estratégica de alto nível – cuidadosamente articulada – envolvendo os dois países. (16)
A China tem sido a maior compradora de terras rurais do mundo. Por razões óbvias: cada terráqueo precisa de 0,22 hectare para se alimentar durante um ano, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). (17) Cada chinês(a) hoje dispõe de apenas 0,09 hectare de superfície arável no país, o que faz com que o governo e prepostos atuem diretamente na compra de terras no exterior. Por essa razão, a China é hoje o maior detentor estrangeiro de áreas não-urbanas dos Estados Unidos e na Austrália. E deve ser também o maior detentor de terras na África.
No Brasil, a China, ao menos oficialmente, não é grande compradora de terras, dadas as nossas restrições à propriedade de terras por estrangeiros. No entanto, na prática, provavelmente ocorrem aquisições chinesas no Brasil por meio de mecanismos contratuais que ocultam sua presença. Ou seja, à medida que essas transações supostamente privadas envolvendo compradores chineses recônditos avançam, perdemos a chance de negociar de forma saudável, altiva e transparente as condições e contrapartidas para uma desejável presença do investimento chinês na agropecuária brasileira.
Podemos certamente conceber diferentes fórmulas para que o capital chinês seja alocado na agropecuária, com foco na segurança alimentar da China, sem riscos à nossa soberania sobre o território. Não atuar neste sentido – deixando o "mercado" resolver – é parvoíce.
Nossos depósitos de petróleo do pré-sal constituem outro tema de interesse chinês e, na mesma linha, deveriam ser objeto de negociação bilateral, politicamente administrada e específica. Nossas riquezas petrolíferas podem e devem ser negociadas a partir de parcerias que apresentem contrapartidas de interesse brasileiro mais amplo.
Do jeito que encaminhamos a questão, blocos do pré-sal são ofertados em leilão, mas, dadas as incertezas jurídicas e políticas que cercam o ambiente regulatório aqui, os chineses participaram da última rodada de licitação, realizada em novembro passado, em resposta a um pedido – para não dizer súplica – do atual governo para que as estatais chinesas comparecessem, o que acabaram fazendo de forma apenas simbólica. Muito melhor seria negociar uma parceria estratégica de coparticipação na exploração e desenvolvimento do nosso potencial petrolífero, numa negociação governo a governo em que interesses brasileiros (e contrapartidas chinesas) pudessem ser colocados na mesa de negociações.
A história mostra que nenhuma nação terá sido bem-sucedida em todos os aspectos. E o sucesso em um aspecto está muito frequentemente ligado ao fracasso em outro. E o estrondoso sucesso chinês por coincidência apresenta vulnerabilidades nesses dois setores em que o Brasil é forte, agropecuária e petróleo. A busca de uma parceria verdadeiramente estratégica precisa levar em conta essa complementaridade.
Evidentemente, tal mudança de curso em política externa pressupõe duas vontades: do Brasil e da China. Até que ponto os chineses se interessariam sinceramente pela ideia? Até que ponto não tendemos a superestimar nosso potencial de reduzir a dependência externa chinesa em alimentos e energia? Qual será o nosso valor comparativo, econômico e estratégico, em relação a outras cartas de que os chineses dispõem (tanto internas, como por exemplo as fontes de energia renovável que desenvolvem, como externas, oriundas de outro parceiros)?
Ante tais questões, uma ação diplomática vigorosa será o único movimento capaz de nos trazer respostas claras. Neste caso, a ação diplomática – se bem articulada – deverá envolver elementos de avaliação quantitativo, econômico, mas também aspectos qualitativos associados a percepções de interesses e valores de natureza subjetiva, porém fundamentais numa negociação. E, no plano interno, caberá uma avaliação genuína de nossa capacidade de unificar interesses setoriais pulverizados em uma frente de negociação única, a partir de ampla coordenação prática e não burocrática de forças plurais, num contexto aberto, transparente e permeável aos interesses efetivamente transformadores.
Não se trata de tarefa ordinária, convencional. Tampouco será uma política que possa ser formulada entre quatro paredes, em gabinetes palacianos. Exigirá o envolvimento do Congresso Nacional, das unidades da federação e de representantes qualificados de segmentos geradores de alto valor econômico e social, especialmente os setores associados à infraestruturação das cidades para o ambiente da nova economia. O objetivo desse esforço: obter um máximo denominador comum para um posicionamento integrado numa mesa de negociações com a China.
Pesa contra nós a extrema e crescente assimetria de poder entre China e Brasil. Em nosso favor, além das nossas vantagens nos setores agropecuários e energético, a competitividade de outros setores, notadamente da indústria mineral e, sobretudo, o tamanho do nosso mercado consumidor. E esse constitui a motivação central deste ensaio: a visão de que que os nossos centros urbanos e o nosso interesse em construir cidades e infraestruturas urbanas melhores possam representar hoje alvos de interesse chinês para a destinação de investimentos, serviços e produtos.
Claro que, num eventual esforço de construção de uma agenda comum mais substantiva, a relação bilateral China-Brasil não pode reproduzir os termos do relacionamento de tipo neocolonialista. Em uma palavra, não nos interessa exportar comida e petróleo apenas; importa construir uma parceria que nos conduza à rediversificação produtiva do Brasil no quadro da chamada indústria 4.0.
Desnecessário dizer nesse contexto que teremos muito a aprender e a ganhar com uma interação maior com a China – se soubermos lançar sobre ela um olhar analítico sóbrio, altivo, humilde e despolarizado, descolado das certezas teóricas frágeis às quais estejamos ferrenhamente abraçados. Essa é, aliás, a grande lição e exemplo que a China contemporânea exibe para o mundo: a capacidade de aprender com os erros e acertos próprios e dos outros; a competência de entender que nem o liberalismo ou o socialismo em suas formas puras abririam o caminho para o seu desenvolvimento socioeconômico; a inteligência de encontrar, coletivamente, a partir de seu ethos, um caminho próprio de prosperidade, sem mimetismos automáticos a esta ou aquela corrente do pensamento econômico ou político.
No plano das reformas oriundas dentro do Estado, a China a seu modo criou um mosaico teórico próprio e práticas específicas na formulação de políticas públicas. Agregou a importância dos mercados que observou em países ditos liberais; as técnicas de desenvolvimento industrial do Japão e Tigres Asiáticos; a gestão da integridade territorial a partir dos erros cometidos pela antiga União Soviética; o controle da regulação financeira e das políticas monetárias e fiscais a partir dos diferentes choques enfrentados pela economia global nos anos 70, 90 e na crise dos subprime; as modalidades de inovação tecnológica do Vale do Silício; e, finalmente, não nos esqueçamos, os ensinamentos da abortada Nova Política Econômica (NEP) de Lenin, que propugnava a combinação de elementos do capitalismo no programa socialista da URSS, algo que o jovem Deng absorvera em seus estudos em Moscou. (18)
Os ingredientes são diversos e conhecidos, mas a dosaem de cada elemento faz parte de uma fórmula que é chinesa. E que só vale para a China. Na minha condição de observador mundano da vida, recorro sempre à imagem do tripé conformado por mercados, governos e sociedade, à qual aludi mais acima.
Essa imagem do tripé, do necessário equilíbrio entre os poderes econômico, político e social, me parece muito potente, pois mercado, governo e sociedade constituem forças primordiais e permanentes. Estão ligadas às origens e evolução das sociedades e se apresentam continuamente como principais agentes da história das civilizações. E são categorias de poder irredutíveis, no sentido de que elas não podem ser eliminadas. As experiências do passado, desde os tempos ancestrais, demonstram que tentativas radicais de supressão do mercado, do Estado, ou da expressão popular são sempre geradoras de instabilidades, com consequências sempre trágicas.
Nessa perspectiva, o que vale notar do exemplo reformador da China é como um governo absolutamente centralizado que se autodeclara socialista foi capaz de libertar forças e agentes de mercado, conseguindo estabelecer um equilíbrio sem precedentes nas relações entre o poder político e o poder econômico e, partir desse novo equilíbrio, abrir o caminho para uma nova inserção internacional.
E nos planos das transformações do Estado vindas "de baixo para cima", de natureza popular, poderia a China – esse colosso imperial com um governo de um só partido e população hiper homogênea – nos ajudar em algo? Justamente a nós brasileiros que, como um espelho em negativo da China, buscamos fortalecer a pluralidade democrática a partir de nossa diversidade étnica?
Certamente sim. E a resposta categoricamente afirmativa não deixa de constituir um curioso paradoxo.
Max Weber achava que um determinado modo de produção é o resultado de uma ética, de uma ideologia, do ethos de um povo. (19) O raciocínio de Weber é portanto diametralmente oposto ao de Marx, para quem a infraestrutura – as forças de produção, a base econômica da sociedade – é na realidade a produtora das ideologias, do Estado, religiões, cultura e artes, dos meios de comunicação. (20)
Consequentemente, na perspectiva weberiana, um determinado modo de produção só pode ser implantado em uma sociedade se uma ética compatível com esse modo de produção estiver sido previamente estabelecida no corpo social. Nessa linha, nos casos da China, Japão e Coreia do Sul, terá sido a ética confucionista que permitiu adoção de uma ordem produtiva espelhada no Ocidente. (21) No mesmo diapasão, teria sido o puritanismo protestante que ensejou o estabelecimento do capitalismo moderno na Europa.
Se adotamos a abordagem de Weber como referência, podemos então perguntar se, efetivamente, a sociedade brasileira estaria dotada de um conjunto mínimo de valores comuns que ensejará um caminho de prosperidade e justiça social para o século XXI. Ou, em outras palavras, tomando o nosso ethos como ponto de partida, qual seria o modelo econômico, ou o modo de produção, condizente com a alma brasileira, que nos traga prosperidade e justiça social sem violar nossa essência como povo?
Considerando os valores que compõem a nossa identidade coletiva mais fundamental, seria possível imaginarmos um projeto de nação neste momento de profunda mudança de paradigma tecnológico? Em caso afirmativo, em quais bases econômicas e com que parcerias?
Numa métrica de réguas absolutamente incomparáveis, talvez o equivalente brasileiro do ethos confucionista chinês seja representado pelos valores da alegria, desprendimento, irreverência, diversidade, improviso, miscigenação e de celebração espontânea da vida que a alma brasileira carrega. Tais valores representam um verdadeiro contraponto ao confucionismo que é constituído, numa simplificação grosseira, por um conjunto diverso de princípios e valores como a benevolência, a justiça, a reverência, o conhecimento e a confiança. Esse contraponto é revelador de dois grandes contrastes.
O primeiro tem a ver com as diferenças marcantes entre a natureza própria de cada conjunto de valores. Não vou me estender aqui. Basta pensar que o confucionismo tem como pilares valores apolíneos como a benevolência e a reverência, enquanto a brasilidade tem a alegria e o desprendimento – traços dionisíacos – como elementos de esteio social. Não há julgamento aqui; apenas a constatação de que a realização do que talvez possamos chamar de plenitude coletiva de cada nação se dê em bases de valores que são bastante distintos entre si.
O segundo contraste é igualmente acentuado, mas aqui neste domínio impõe-se inevitavelmente um juízo comparativo. Enquanto o confucionismo é uma doutrina madura e consolidada, o ethos brasileiro está ainda em plena formação, ainda jovem, instável, frágil. O confucionismo se impôs como um cânone que se sedimentou ao longo de séculos e dinastias, tendo inclusive se alastrado por vasto território que se estende para muito além do solo chinês. Os valores identitários do Brasil – nossa história, hábitos, costumes, comportamentos e ideais – não constituem ainda uma força aglutinadora de nossa coletividade.
E este é talvez o grande drama, dilema e desafio que temos pela frente: a beleza e o poder do ethos brasileiro é a nossa diversidade. No entanto, essa diversidade encontra-se ameaçada por forças múltiplas e contraditórias: a renitência do racismo e de diferentes formas de discriminação, as lutas identitárias (a um tempo necessárias e legítimas mas potencialmente fragmentadoras), o aumento da desigualdade e a sua expressão territorial – a acentuada segregação socioespacial nas cidades.
O que afinal a China poderia ensinar para que estes valores se consolidem como grandes ideais a serem efetivamente amadurecidos e consolidados? Seremos capazes de nos unir em torno da nossa diversidade? Vamos conseguir fortalecer nossa coesão como povo e encontrar um caminho de prosperidade? Ou vamos nos fragmentar, aprofundando o estranhamento e a apartação de diferentes, gerando um quadro de anomia crônica?
Talvez a maior lição das reformas chinesas seja essa: não há contradição entre Weber e Marx. A infraestrutura de fato produz os valores, princípios e a cultura de uma civilização, ao mesmo tempo o ethos de um povo é definidor do modo de produção possível que pode se instaurar num país.
Até que ponto a liberdade individual e os processos democráticos.